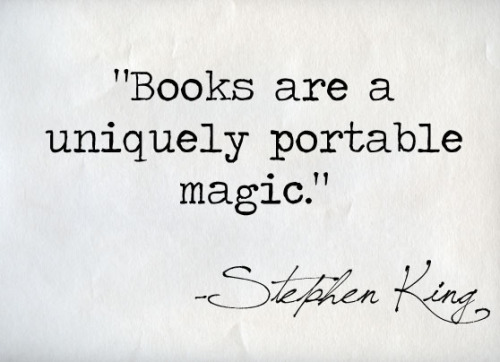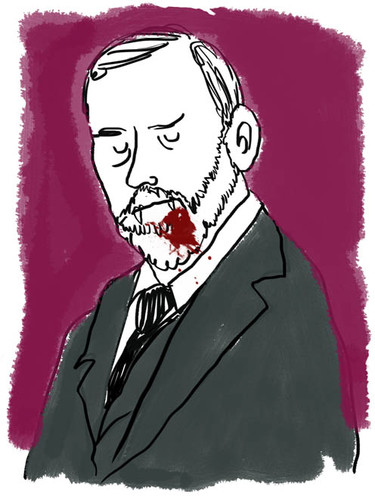Notas para a abertura da I Tertúlia pela Democracia e Cidadania... Ou colecção de frases soltas com um cheirinho de coerência.
Diz-nos Platão, dessa mesma Grécia de que tanto agora nos procuramos afastar, mas que tanto deu à Humanidade:
“Ora o maior dos castigos é ser governado por quem é pior do que nós, se não queremos governar nós mesmos.” (República, livro I, 347c)
Noutros termos, o preço a pagar pela não participação na política, é ser governado por quem é inferior.
O facto é que “esses que são piores que nós” de que nos fala Platão, esses inferiores, medíocres, aprendizes de pensamento único, sem ideias ou a memória que implique a vergonha que vai do que disseram ontem ao que fazem hoje, há muito que chegaram ao poder e a culpa é nossa.
Demitimo-nos, abdicámos das nossas responsabilidades e da nossa consciência. E pior, fizemo-lo de livre vontade.
Os gregos, de novo eles, designavam de idiótes o indivíduo que nada queria saber de política, que vivia imerso nas pequenas coisas de ordem doméstica e sentia que nada podia oferecer aos restantes, acabando manipulado por todos. Do termo grego deriva o nosso idiota actual.
Tornámo-nos invisíveis.
Acomodámo-nos e já não contamos para o que quer que seja.
Desabituámo-nos de pensar e falar, embora não pareça, dada a quantidade de chavões repetidos até à exaustão pela comunicação social e que já não estranhamos, mas que continuamos sem entender. Encolhemos os ombros e mudamos para o mesmo num outro canal televisivo. A nossa escolha reduzida a isto.
Perdemos o hábito de pensar e começa a desenvolver-se o medo de o fazer, e mais, de estar junto a quem pensa e fala, não vá contagiar-nos, não vá estar alguém de olhos postos em nós.
Optámos por permanecer quietos, fingir de mortos quando as coisas se complicam, não levantar ondas, aninhar-nos no sofá ou no cada vez mais restrito grupo de amigos de confiança (nunca deixando de espreitar por cima do ombro e medir a exacta extensão de cada palavra) ou, opção dos nossos tempos, proteger-nos atrás do ecrã de computador (numa irreflectida ilusão de segurança).
Deixámos de ouvir, falar e, sobretudo, pensar. Um dia acordámos transformados no “analfabeto político” de Brecht.
Deixámos de OUSAR PENSAR e fazê-lo na praça pública (na Ágora), dar a cara por uma ideia sem medo de represálias ou expectativa de agradar a este ou àquele.
Uma das implicações da Democracia grega foi que os cidadãos passassem a “ver-se” uns aos outros (naÁgora, na disposição das próprias assembleias, onde cada cidadão podia tomar a palavra, no teatro, onde era sempre a decisão humana e suas implicações que estavam em causa).
Foi isto que deixou de suceder, “ver” os demais e deixar que nos “vejam”, unicamente apoiados na convicção que resulta do uso autónomo da razão.
Mas não é um trabalho fácil este de recuperar a autonomia.
Não é fácil porque exige uma modificação de mentalidade. É algo a longo prazo. Não se trata de acreditar que podemos mudar tudo aqui e agora, como que por milagre. Não pode ser esta a verdadeira atitude política.
Mas essa é a única forma de mudar uma forma de vida e de fazer política (ou não fazer) que não funciona, exceptuando para uns poucos privilegiados em regime rotativo.
Não é correcta esta substituição da pessoa pelo número.
Não é correcta esta política de trabalhar mais, para produzir mais, para consumir mais, para desperdiçar mais.
A qualquer custo.
Viver não se pode resumir a isto. Viver tem de ser mais.
Não é o fim do Governo que se pretende. Não é o fim da Democracia que se pretende. Apenas o fim de um paradigma de Governo e Democracia. Para voltar a colocar a pessoa e os valores no centro. De onde nunca deveriam ter sido arredados.
Isto cabe-nos a nós, porque um Governo (enquanto colectivo) não tem consciência.
O trabalho tem de começar em nós. A mudança tem de começar em nós. Para que o colectivo mude também.
Por isso mesmo, é fundamental que não participemos das misérias que condenamos em silêncio… E isso passa por dar pequenos passos, como este, aqui, hoje, nesta tertúlia, mas que sejam para sempre…
Que produzam efeito em nós.
Que fiquemos mais esclarecidos, maiores.
Para fazer o que é correcto, da forma correcta, pelas razões correctas. (Barry Schwartz)
Porque não nascemos para ser coagidos.
Se não vivermos de acordo com a nossa natureza, que não é esta coisa amorfa, então é como se já estivéssemos mortos.
No essencial, tudo se resume ao tipo de pessoa que queremos ser.
No essencial, é uma escolha nossa.
No essencial, é a imagem e o exemplo que queremos passar aos que se seguem, aos nossos filhos.